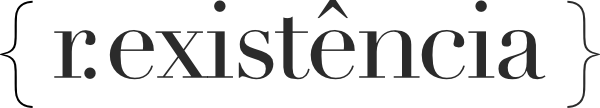Entre o fim do século passado e o princípio deste século, antropólogos como os brasileiros Eduardo Viveiros de Castro e Tânia Stolze Lima, ou o francês Philippe Descola (que dedicou grande parte da sua obra ao estudo da relação entre humanos e não-humanos) recolheram um vasto conjunto de etnografias já existentes e registaram eles próprios outras tantas sobre as cosmologias e os mitos dos povos ameríndios – são considerados nativos do continente americano povos que nele habitam há 20 mil anos ou mais.
Depois de uma longa análise a todas as fontes a que tiveram acesso, concluiram que existe, entre estes povos ancestrais do continente americano, uma base filosófica comum no que diz respeito à natureza relacional dos seres vivos e à composição do mundo, a qual designaram de perspectivismo ameríndio¹.
Segundo a sua forma de perceber a natureza e a relação entre os seres vivos, cada espécie de animal e demais seres vê-se a si própria como humana, na medida em que se toma como única, como especial, sendo a personagem principal da ordem natural do seu cosmos.
Para estes povos, a animalidade não é mais do que um conjunto de atributos de um corpo percepcionado de forma externa – percepção de outrem – enquanto que a humanidade representa uma modalidade de percepção sobre si mesmo, apenas reconhecível entre seres que compartilhem a mesma forma corporal.
Deste modo, também capivaras, piranhas, urubus ou moscas-da-fruta verão formas corporais diferentes como animais, enquanto que se compreendem a si próprios e entre si como humanos. .
De acordo com esta forma de pensar as relações entre os seres vivos, todas as espécies partilham esta condição de existência idêntica.
Não se tratando de uma pluralidade de pontos de vista, mas sim de um ponto de vista único de mundos diferentes, esta visão, esta condição de existência semelhante a todos os seres vivos não é a animalidade – ao contrário do que curiosamente defende a ciência pós-darwiniana, que considera o homem como pertencente ao reino animal – mas sim, a humanidade, uma vez que cada espécie, cada forma diferente de organismo, se experiencia como humana, sendo essa a condição referencial da sua existência e da sua representação de mundo.
Os povos ancestrais do continente americano tinham (e continuam a ter, os que ainda vivem em povoações designadas como indígenas) uma consciência que contempla que a riqueza, o sofrimento e o mistério inerentes à experiência de qualquer ser vivo são semelhantes, independentemente da aparência e do comportamento a que foram destinados.
Aquilo em que se centram é na vida e no seu ciclo, no seu processo, e não apenas na sua vida. Sabem, por exemplo, que, ao mexer numa pedra, estarão a estragar a vida a outros seres vivos que a usariam como abrigo ou, quem sabe, como templo.
Esta forma de perceber a relação entre os seres vivos, bem como o nosso posicionamento na natureza e no cosmos, serve para exemplificar uma forma de estar, de sentir, de perceber e de viver – uma consciência – que já foi nossa e é o meu ponto de partida para tentar entender como evoluímos para o modelo que rege a vivência da maior parte dos humanos relativamente à questão não-humana.
À medida que a nossa população se sedentarizou e foi crescendo, cresceu também a domesticação em larga escala como solução alimentar, uma vez que somente caça, pesca e recolha se tornaram escassos para tão grandes necessidades. O ser humano prosperou com a domesticação de plantas e animais e as oportunidades destes seres aumentava simbioticamente na medida em que se relacionassem connosco.
O seu património genético prosperou em quantidade, ao ponto de, hoje em dia, só as galinhas – sem incluir as restantes espécies de aves domesticadas – somarem o triplo da biomassa da totalidade das aves selvagens.
A relação entre humanos e não-humanos evoluiu a partir da premissa da domesticação; tudo o resto passou a designar-se de selvagem. Tudo o que se situava para lá da orla da civilização ficaria ali, selvagem, para um dia ser tomado pelos que de nós descenderiam.
Trilhámos um caminho que passou a contemplar apenas a instrumentalidade dos restantes seres vivos e a compreensão do nosso lugar no cosmos, no mundo que conhecemos, que representamos, passou a esgotar-se em nós. Passou a ser tudo para nós. Tudo sobre nós.
E o resto foi esquecido.
Esquecemo-nos que tudo, incluindo o ser humano, tem a sua origem no que hoje consideramos selvagem, que somos feitos “da mesma massa” e que, um dia, já os tememos, já os respeitámos, já os admirámos.
A filosofia, a religião, a política e as estruturas de poder em geral, confirmaram e exaltaram o facto de a humanidade ser só nossa, cavando ainda mais o fosso entre humanos e não-humanos.
Só nós é que pensamos. Só nós é que sentimos. Só nós é que sofremos. Só nós é que vimos mais à frente. Só nós é que podemos aspirar algo mais.
Avançámos na modernidade e, no período pós-industrial, esta relação entre humanos e não-humanos calcificou ainda mais com a emergência de um paradigma ainda mais antropocêntrico e limitado, que se fechou definitivamente sobre si próprio.
Fruto das vantagens e privilégios que fomos criando em relação às outras espécies, partimos de um modelo que trata do “nós” para um modelo ainda mais perverso do “cada um por si mesmo” e, então, tudo passou a ser matéria-prima industrializável e capitalizável.
A desflorestação acelerou e ecossistemas ricos, nutridos e nutritivos, foram sendo dizimados em virtude do espaço que fomos precisando para as actividades que valorizamos.
Hoje em dia, usamos os outros seres vivos com aparência corporal diferente da nossa na indústria da alimentação, na indústria científica, na indústria do vestuário, na indústria do entretenimento, na indústria do conforto sócio-emocional, entre tantas mais.
E, se nas duas primeiras o seu uso é mais consensual – ainda que, obviamente, haja necessidade de um enorme incremento no esforço de lhes dar uma vida e uma morte digna e, se possível, evoluirmos para uma dieta à base de alimentos de origem vegetal – nas demais existem já alguns humanos a achar certos comportamentos de uso e abuso de outros seres vivos não aceitáveis: usamos mamíferos, répteis e aves como matéria-prima na indústria do vestuário, do calçado e da moda sem uma sustentação moral e legal. Muitos se lembrarão das centenas de milhões de visons que foram executados por terem contraído covid-19 em vários países, do norte ao sul da Europa, durante a pandemia. Só a Dinamarca, em Novembro de 2020, anunciou o abate de 17 milhões de visons, segundo o site euronews.com do dia 21/05/2021.
É, embora ainda para poucos humanos, claro que o uso de outros seres vivos para entretenimento se constitui como um acto vergonhoso. Levar, hoje em dia, uma criança a um zoo, a um espectáculo de golfinhos ou a uma tourada é um comportamento questionável.
E é, para ainda menos humanos, claro que mesmo a forma como nos relacionamos com os animais de estimação – ainda que sob a tutela de uma intenção que é boa e da obrigatoriedade legal vigente – acaba por se constituir como uma bateria de procedimentos violentos para com os seres vivos em questão.
Prender, fechar, enjaular, encoleirar, atrelar, engaiolar, açaimar, açoitar, esterilizar e vasectomizar seriam procedimentos questionáveis se tomássemos um caminho menos centrado em nós e mais centrado na vida e nos que não reconhecemos como semelhantes.
Vivemos num tempo em que as populações selvagens de seres vivos não-humanos vêem o seu espaço cada vez mais reduzido, com recursos cada vez mais escassos e a seca a assolar grande parte dos ecossistemas onde habitam. É fácil de observar, em vários pontos do planeta, que muitos destes seres vivos – em particular mamíferos de grande porte – não encontram alternativa senão assaltar povoações humanas, mesmo sabendo do perigo que correm, tal o desespero pela sobrevivência.
Estas questões relacionais ganharão, a seu tempo, relevância como, noutros tempos se levantaram outras questões tais como a escravidão, a liberdade ou os direitos da mulher e da criança.
Talvez não esteja para breve entendermos que a relação que temos com os outros seres vivos com aparência corporal diferente da nossa é uma questão central na revolução comportamental e moral que deverá acontecer para que possamos sobreviver.
A perpetuação do ensino de valores que representam a vida não-humana como algo supérfluo é um sintoma do afunilamento intelectual e espiritual em que a humanidade desembocou.
A filosofia dos povos ancestrais do continente americano, em particular, e dos povos indígenas que ainda resistem em todo o mundo, não tem sido contemplada no património intelectual que sustenta os valores que regulam o nosso comportamento.
Se mais provas fossem precisas da importância da aprendizagem dos seus princípios, atentemos ao facto de estas serem as verdadeiras guardiãs humanas da biodiversidade: onde há populações indígenas, a vida não morre sem razão, não é saqueada, nem vê a sua integralidade violentamente desrespeitada para conforto de alguns. A forma como sentem, como pensam, como vivem – a sua consciência – é o garante que não causarão desequilíbrio em qualquer ecossistema em que habitem.
Num planeta humano, demasiado humano, onde a direcção e lógica do que fazemos não representa mais do que um buraco negro sorvedor da vida, será talvez altura de deixarmos de ser uma espécie de primatas fanfarrões, que não olham às consequências do seu comportamento, e entendermos – do mesmo modo que o entendem as populações indígenas ameríndias – que a natureza é o maior ativo do universo que conhecemos.
Mas, para isso, teríamos que entender primeiramente que a vida, apesar de ter tomado caminhos variados que resultaram numa desigualdade na aparência e no comportamento entre as diferentes espécies, tem esta perspetiva única: a de sermos todos humanos.
¹ O conceito de perspectivismo ameríndio é, neste texto, apresentado numa versão simplificada, relativa ao assunto que aqui abordamos. O seu espectro, depurado pela análise das narrativas ancestrais destes povos, tem como ponto de partida uma época remota em que as variadas entidades viventes partilhavam uma condição corporal indistinta, sendo capazes de comunicar entre si. Essa condição “humana” indistinta inicial, no sentido da percepção de si mesmo e dos que compartilham a mesma forma corporal, foi, a determinada altura, fragmentada e as espécies separadas, assumindo as diferentes formas corporais que hoje persistem. Os espíritos são contemplados nestas narrativas também como entidades diferenciadas e participantes do seu cosmos e o xamanismo será a porta de entrada no acesso a estas entidades, bem como ao espírito dos animais. De referir ainda que o conceito que foi sendo desenhado pelos antropólogos que nele trabalharam, e que resultou nesta matriz filosófica, é, em si, também uma versão simplificada de uma realidade indígena que é obviamente diversa.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Viveiros de Castro, Eduardo (2018). “A antropologia perspectivista e o método da equivocação”. Tradução de Marcelo Giacomazzi e Rodrigo Amaro – Revista de antropologia do Centro-Oeste.
Da Costa Maciel, Lucas. “Perspectivismo ameríndio”. FFLCH Enciclopédia de Antropologia. Disponível em: https://ea.fflch.usp.br/conceito/perspectivismo-amerindio (28/07/2019)
Catry, Paulo. “Crónicas naturais: A era das galinhas”. wilder.pt . Disponível em: https://www.wilder.pt/naturalistas/cronicas-naturais-a-era-das-galinhas/ (11/10/2022)
Magnelli, André. “Os fios de um pensamento entrelaçado: Entrevista com Bruno Latour em formato escrito”. ateliedehumanidades.com. Disponível em: