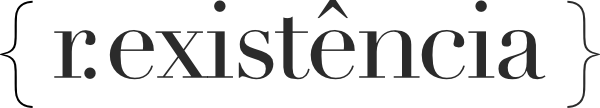Eu sou do tempo em que ir ao miradouro da Graça não tinha graça. Subindo a pé pelo Martim Moniz então, ainda menos graça tinha. Os meus colegas da faculdade não compreendiam a necessidade quase vital de me abastecer de “lemon cha” no supermercado chinês e de me embrenhar naquela ladeira com cheiro a caril e fazer a subida íngreme até ao cimo daquele monte.
Subir a calçada de Santo André era uma espécie de peregrinação semanal que me ajudava a juntar as pontas soltas de Macau e Portugal, a não perder “o fio à meada”… Ser emigrante retornado tem destas coisas, nunca nos tornamos inteiramente de lá, nem voltamos a ser do nosso país de origem. Ficamos como que um viajante perdido no tempo, sempre com flashbacks do passado e um desfasamento em relação ao presente, que no caso do emigrante é um aqui e agora inserido num passado ainda mais antigo.
Foi nesses tempos idos de estudante universitária que, certo dia, me apercebi que a cidade estava a ficar invadida por turistas que chegavam sem pinga de suor na testa ao miradouro da Graça. “Como é possível, será que os trazem cá para cima de autocarro?”, perguntei aos ventos, e os ventos sopraram sobre as linhas de ferro no chão, e foi aí que percebi que os turistas subiam de elétrico. Foi uma constatação que me remeteu mais uma vez para a importância da minha peregrinação, que não era a Fátima de joelhos, mas à Graça a “penantes” e sempre a abrir.
Há momentos aparentemente insignificantes e inconsequentes que nos marcam para sempre; lembro-me de olhar a cidade e reflectir sobre o quão essencial é, para nós humanos sofrer um pouco para depois podermos apreciar verdadeiramente o prazer, o prémio obtido por mérito próprio depois de algum esforço.
Caminhar desde a boca do Metro, sem parar e sempre a subir, e finalmente dobrar a esquina da segunda parte da rampa, sentir as costas a suar e as coxas a contrair, e num último fôlego chegar lá acima e sentir o vento e cheiro das agulhas do pinheiro manso da Graça, é para mim um prazer que não poderia existir sem o pequeno sofrimento que o antecede.
Esta máxima do “é preciso fazer o sacrifício para dar valor ao benefício”, compreendi eu mais tarde em outras divagações. Foi-me incutida pelas minhas avós e mãe na sua forma mais curta: “primeiro dever, depois prazer”, ou em termos práticos “primeiro tens de lavar a loiça e só depois podes ir brincar lá para fora”. É uma fórmula que me foi passada quase em jeito de feitiço, porque a verdade é que sempre que tentei fugir ao dever e passar logo ao prazer, lixei-me…
O discorrer deste devaneio fez-nos chegar ao cimo do Monte da Tatuagem, monte que antes não tinha graça; era, aliás, sinónimo de uma vida de desgraça, mas que agora está apinhado de turistas da geometria sagrada e outros símbolos espirituais.
A tatuagem agora é comodidade mas antes incomodava, era incómoda pela dor que representava, era prova das tribulações que a pessoa sofreu para as merecer ter gravadas na pele.
Neste mundo de turistas da tatuagem, há demasiadas pessoas com chakras e mantras tatuados nos corpos, mas que, ao contrário de mim, nunca subiram a pé pelo monte do Yoga. Eu fui a pé, e passei por cirurgias, lesões, progressos e retrocessos, em serviço de mim própria e dos outros. São 21 anos a subir os sucessivos cumes da cordilheira do Yoga, e sabe tão bem ter chegado tão cá acima, a vista é sublime, a tal ponto que a tatuagem quase não me doeu.
Namaste.